Coordenadora: Tânia Abreu (EBP/AMP)
Êxtimo: Fabián Naparstek (AME EOL/AMP)
Relatores:
Daniela Nunes Araújo (EBP/AMP)
Wilker França (IPB)
Participantes:
Bruno de Oliveira (IPB)
Karynna Nóbrega (EBP/AMP)
Júlia Jones (IPB)
Luiz Mena (EBP/AMP)
Virgínia Dazzani (IPB)
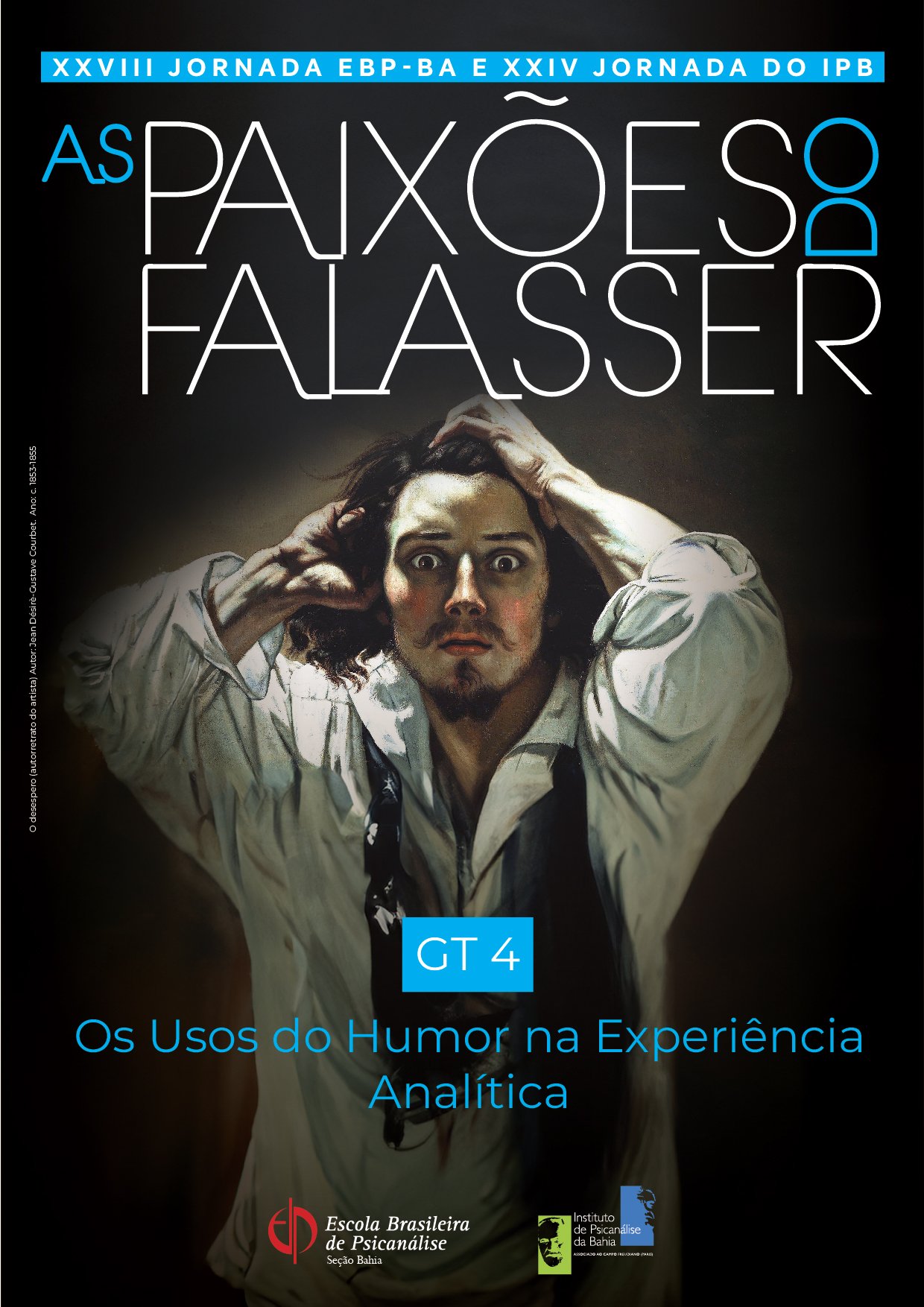
GT 4: Os Usos do Humor na Experiência Analítica
Entre o corpo e o discurso há algo que os analistas se deleitam, chamando-o pretensiosamente, de afetos. É evidente que vocês são afetados numa análise. (LACAN[1], 1971/1972/2012, p.220).
Introduzindo pelo fim
Existem diversas maneiras de abordar a experiência analítica e o seu final. Elegemos, para este trabalho, a via do humor e suas relações com as paixões do falasser considerando que:
Lacan reintroduz as paixões para pensar o final da análise, justo neste momento em que o sujeito vai ao encontro de uma radical ausência de garantias, autorizando-se unicamente a partir de sua própria relação com a causa analítica. Momento este, em que já não se identifica com o objeto do fantasma fundamental e nem tampouco com o analista, e no qual o saber tem algo de derrisório, de resto caído e rendido em face à iteração do mesmo, do incurável do sinthome (MACEDO[2], 2019).
Essa passagem fora recuperada por nós no argumento do XIII Congresso de Membros da EBP, ocorrido em abril de 2019, durante o qual os membros da EBP se dedicaram a conversar sobre o “Jogo das Paixões na Experiência Analítica”, o que indica a pertinência e a importância do tema da XXVIII Jornadas da EBP Bahia e XXIV Jornadas do Instituto de Psicanálise da Bahia para a práxis analítica.
Dito isso, retomaremos algumas experiências de análise que chegaram ao fim e que os analisantes optaram pelo dispositivo do passe, através do qual compartilharam como fizeram a passagem do trágico ao cômico:
Antes da última sessão uma colega me diz: “Tem um buraco no divã do analista”! Diante do que ironizo: “É, deve ser o povo gordo que ele atende! “Vou dizer para ele que é assim que o Brasil vai ficar se o “Coiso” ganhar”. O humor diante do furo é minha saída. O analista encerra a sessão, me acompanha até a porta, aperta minha mão e diz: “É uma boa saída!”. Não marca outra sessão.
Passo o final de semana inquieta, sem crer que chegara ao final e penso: “Ah, não! Peraí! Eu vou lá saber se esse negócio terminou mesmo! Ao me ver ali, o analista na porta da sua sala me recebe com um “Hello”! Surpreso. Entendo que não adianta mais continuar falando. Vou chegar ao infinito. Meu infinito particular! (ABREU[3], 2021)
Reproduzimos aqui a passagem da última sessão de análise de Tânia Abreu, tal como fora escrita no seu primeiro depoimento do passe e recentemente discutida no Encontro da AMP, na Conversação sobre o Passe, em janeiro de 2024. Por que o interesse nessa passagem, quatro anos após a sua nomeação? O interesse se deu pelo fato de que, nessa mesma Conversação, alguns colegas a questionaram: “O seu final se dera pelo humor ou pelo encontro com uma saída da inibição?”. Em uma apresentação, em setembro de 2023, durante a qual Tânia Abreu conversava com os colegas sobre a Formação do Analista, e que contou com a presença de Guy Briole como convidado, este último ressaltou o lugar que a contingência tivera na vida de Tânia e, consequentemente, em seus testemunhos. Eis que, durante a noite de apresentação da nossa Jornada, com a presença do convidado Marcus André Vieira, Marcelo Veras questiona: “Qual o lugar do humor nas paixões do falasser?”. Contingencialmente, Tânia foi tomada pelo tema e, de imediato, ao ser fisgada por ele, convidou os demais colegas que compõem este GT 4 para, com ela, pesquisarem os usos do humor na experiência analítica.
Foi com alegria que o nosso colega Fabián Naparstek aceitou o convite para nos acompanhar como extimo. No GT 4 visamos trabalhar não só o lugar do humor e suas variações no final da experiência analítica, mas também seus usos e manejos na diversidade da prática clínica. Sobre o final da própria análise, Tânia conclui: “O humor diante do furo é minha saída.” Vejamos que articulações faremos que nos permitirá entender esta passagem como uma saída da análise. Desde já destacamos que o humor implícito no tom do “hello” emitido pelo analista ao ver Tânia no consultório, após o final de semana, continha uma ironia que a levou a ler que, finalmente, só poderia ter voltado ali por ter se afastado do lugar de objeto que fora para o Outro, configurado na parceria sintomática com a inibição. Trata-se de um fim selado pelo humor que, inicialmente, compareceu do lado da analisante e, depois, do analista.
O objetivo deste tópico é configurar o chiste e o passe como tendo uma única estrutura: ambos existem a partir de três elementos. Na estrutura de um chiste se distinguem três pessoas: “além da que faz o chiste, deve haver uma segunda que é tomada como objeto da agressividade hostil ou sexual e uma terceira na qual se cumpre o objetivo do chiste de produzir prazer” (FREUD[4], 1996, p. 100). Freud (1905/1996) definiu o chiste como uma forma de humor que envolve um jogo de palavras ou conceitos, gerando um prazer intelectual por meio da quebra de expectativas ou da revelação de significados ocultos. Segundo ele, o chiste serve como uma forma de liberar tensões psíquicas, permitindo que desejos reprimidos ou pensamentos inconscientes se manifestem de maneira aceitável e socialmente consentida. Um exemplo clássico de chiste é um trocadilho ou uma piada que utiliza a ambiguidade de palavras para provocar riso, como no caso de uma piada sobre um médico que é confundido com um paciente devido à ambiguidade de uma expressão. Freud (1905/1996) detalhou os mecanismos do chiste, como condensação (quando dois pensamentos são combinados em um) e deslocamento (quando o significado é transferido de uma ideia para outra).
No caso do passe, trata-se de um dispositivo proposto por Lacan em 1967, dentre outras razões, para precisar o que é um final de análise em sua orientação. Não se trata de um simples fim cronológico, mas de um conceito. Com o postulado ortodoxo da análise didática e da liquidação da transferência defendidas pelos pós-freudianos, a ideia de final de análise havia deslizado para a identificação com o analista. A este propósito, Miller[5] relembra que, para Lacan, o final de análise marca que o sujeito que daí resulta tornou-se um analista a partir da própria análise, que o permitiu autorizar-se de si mesmo e não a partir da prática clínica, do número de análises que conduziu.
Miller (2023), em Portraits de famille (Retratos de Família), nos incita a considerar a estrutura de Witz para o passe, tal como Freud nos propõe, ou seja, a partir de três elementos. Essa estrutura está evidenciada no dispositivo do passe a partir dos componentes: o passante, o passador e o cartel do passe. Podemos arriscar a afirmar que essa é a estrutura de base do pensamento psicanalítico para a constituição do inconsciente, desde Freud? Senão, vejamos: para falar de pulsões, Freud afirma que elas se satisfazem no corpo próprio. Lendo Freud a partir do ultimíssimo Lacan, podemos afirmar que só há gozo do corpo do Um. É o que Freud nomeou de autoerotismo. Se seguíssemos somente a modalidade freudiana da lógica das pulsões parciais, nos manteríamos no eixo das relações imaginárias. Lacan, entretanto, ao conceituar o movimento circular da pulsão, introduz, nessa equação, a dimensão terceira do Outro, como no chiste. Sigamos Miller[6]: “O objeto pequeno a pode ser visto, no esquema, como algo no Outro transportado pela trajetória pulsional ao campo do sujeito” (1998, p. 25). Condição ternária imposta pelo real do objeto a, que é, em sua estrutura, um furo. É daí que partimos em uma experiência analítica e para onde voltamos ao final, quando passamos da impotência à impossibilidade de dizer da verdade que, em si, tem estrutura de ficção. O encontro com a verdade mentirosa é o cenário para passarmos da tragédia à comédia do que foi nossa vida, de modo chistoso. Essa passagem da tragédia para a comédia é o resultado do consentimento com a castração e com o real, com a contigência, ou seja, é a passagem do Outro completo para o Outro não-todo, barrado. Vimos que na tragédia há um Outro completo, enquanto na comédia há sempre o Outro que falta. O fantasma tem sempre o destino de tragédia (quando você crê no próprio fantasma é uma tragédia) e a travessia do fantasma tem relação com a passagem da tragédia para o humor, quando se deixa de crer no supereu, que atenua a agressividade e passa a proteger e consolar o eu, como nos ensinou Sérgio de Campos (2015) a partir da transmissão do seu final de análise. De acordo com ele, “o humor não foi causa, instrumento, mas consequência do desalinhamento e da distensão entre o eu e o supereu” (CAMPOS[7], 2015, p. 263). Essa passagem da tragédia à comédia (ou ao humor) seria um tratamento possível que se dá ao supereu. Essa seria a distância necessária para se inventar maneiras de lidar com o real que não cessa de comparecer em nossa vida, incluindo aí o que vivenciamos em nossa experiência de Escola.
O paralelo que estabelecemos entre a estrutura do circuito pulsional e a do witz, além de configurar o lugar primário do chiste na constituição do falasser, tem por objetivo advertir sobre a importância de continuar viva entre nós a ideia de que o passe é uma aposta que se ganha, sobretudo quando o Analista da Escola (AE) consegue manter a distância entre o verdadeiro e o real, consentindo com a natureza enganosa da verdade e o advento da comédia em detrimento da tragédia que o levou à análise.
Para que possamos rir, ao final, do que foi nossa tragédia, é necessário que, como nos chistes, a condensação e o deslocamento se prestem para que o movimento dos representantes nos permitam encontrar o efeito de riso que produz o jogo das representações.
Para que o cartel do passe possa nomear, atestar que ali há um AE, é necessário que haja efeitos de afetos que toquem o corpo dos cartelizantes. Brodsky[8] afirma que tais efeitos, em alguns casos, são mais importantes que a demonstração propriamente dita, o que, por outro lado, cria o desafio de distanciar tal nomeação da identificação ou da sugestão. Encontramos aqui o ponto de conexão com o chiste. Segundo Brodsky:
Nesta conversação houve uma resposta que me pareceu que abria uma porta de saída. A intervenção levou a pensar no efeito de afeto do chiste… que tem uma função social, o chiste não é para alguém rir sozinho, o que seria o fracasso do chiste. O chiste transmite algo que produz o riso, que é um efeito de afeto que não poderia ser colocado no balaio da demonstração porque quando se demonstra um chiste …é fatal…no próprio Freud parece haver uma indicação para pensar efeitos de afetos que não impactam somente o corpo de um, mas que possam ressoar no coro de vários. (2019, p. 22-23)
Em seu texto O humor, Freud[9] (1927/1996) caracterizou o humor como uma recusa ao sofrimento e um triunfo do ego. Ele qualificou a invenção humorista como tendo origem numa satisfação que pode ser endereçada ao próprio eu ou a outras pessoas. O humor é rebelde, serve-se dos traumas para obter satisfação e apresenta uma dignidade do sujeito. Lendo Freud, Lacan e Miller, foi possível perceber que, no chiste, há um jogo com os significantes, há um predomínio do simbólico. Por outro lado, a dimensão do cômico se dá pelo imaginário, enquanto que o humor é da ordem do real e do supereu.
A partir do que aqui fora introduzido, será que podemos pensar o humor como um afeto? Como uma invenção de final de análise? Quais as repercussões do humor no percurso de experiências de análise? Como o humor faz ressoar o real do lado da intervenção do analista (analista “santo de suas paixões”[10]), assediado pelas paixões que suscita e para as quais não haverá sossego jamais[11]? Como o humor faz ressoar o real do lado do falasser? É o que aqui nos propomos a investigar.
Assim sendo, a primeira etapa do nosso trabalho tomou como bússola as relações do chiste com o final de análise, nos servindo dos depoimentos de passes para esta pesquisa. Esse material foi usado para investigar quais os possíveis destinos do supereu nos finais de análise, além da clínica das variações do humor (mania, melancolia e tristeza). Isso nos leva a refletir sobre a especificidade do manejo do humor na psicose, bem como o mau humor e a cólera, como vocês verão a seguir por meio de algumas vinhetas clínicas.
Humor e Supereu
Bernardino Horne busca responder à pergunta sobre o final de análise articulando a relação dos afetos com o supereu. De acordo com ele[12] (2015, p. 232),
abre-se a dimensão do amor, e também abre-se a evidência da fixação de gozo desse falasser singular. Esse é o sintoma, fixo em um nome de gozo que vem do supereu. Saber dar a volta a esse nome feroz com humor, com alegria, duplicada pela alegria do saber fazer, a habilidade psíquica implica uma grande satisfação.
Em um dos testemunhos de passe de Lêda Guimarães[13] (2015, p. 241), ela relata que o supereu “deixou de funcionar como imperativo devastador”. Eventualmente, segundo a própria Lêda, quando algum tormento advinha, o padecimento mortífero era “tênue e evanescente”. O final de análise produziu um novo dinamismo pulsional, no qual a pulsão de morte, que estava fixada no supereu, passou a fruir por outras vias: sentimentos de raiva, rancor e indiferença passaram a ser experimentados sem culpa. Os dois estados subjetivos da bipolaridade – alegria excitante e devastação – cederam lugar a um estado subjetivo mais calmo relativo a uma alegria de viver, porém contendo em seu centro um vazio que já não era mais recoberto nem pela alegria excitante, nem pela devastação. (GUIMARÃES, 2015, p. 242)
Sobre o destino do humor, Sérgio de Campos (2015, p. 261) afirma que:
Com o esvaziamento do sentido, um humor nonsense surgiu como um dos resultados do final de análise. O falasser não se leva mais tão a sério, já que o sinthoma-menino proporciona uma “autor-risada” de si mesmo. (…) É como se o supereu protetor falasse para o eu que essa realidade cruel não passa de um jogo infantil, merecedora apenas de que se faça uma boa piada.
Como podemos verificar nos testemunhos de Lêda e de Bernardino, o humor é rebelde, pois protege o ego ao garantir o princípio do prazer contra a dura realidade e a força além desse princípio. Ele desvia a compulsão de sofrer, permitindo ao ego triunfar sobre a realidade. Freud (1927/1996) destacou que embora o humor possa surgir em uma pessoa, ele nunca acontece de forma isolada, pois, de acordo com a nossa leitura, existe um sujeito que atua como mediador na relação entre o ego e o superego. O humor pode ser tomado pelo sujeito como uma saída no final de análise, uma espécie de amável crueldade afetuosa que permite superar a figura idealizada do pai. Isso ocorre porque o humor está livre de culpa, vergonha e censura, indo além do sentido à medida que o sujeito consegue rir de si mesmo diante do vazio e da falta de sentido da vida.
Variações do humor
As variações do humor podem ser interpretadas à primeira vista como uma oscilação dos afetos, mas não é disso que se trata, como explica Cottet[14] (2015) em La aversión del objeto en los estados mixtos, a clínica das oscilações de humor, antigamente chamada de Psicose Maníaco Depressiva e hoje nomeada como Transtorno Bipolar, não é uma clínica dos afetos, mas uma clínica do objeto. A partir do caso de Olga Blum, Cottet (2015) explica que o que é o ponto central do caso é a alternância de períodos eufóricos e melancólicos de uma forma específica: quando a paciente está identificada à mãe e em total oposição ao pai, experimenta uma felicidade eufórica. A euforia que a domina coincide com um saber sobre o mundo, em que todo o sem sentido se anula. Quando está identificada com o pai não tem direito a viver, nem de estar em relação com os outros. O essencial é o lugar dos pais no delírio: na fase maníaca, a paciente está claramente identificada com a mãe, e se alegra de ter superado seu pai, objeto de uma verdadeira aversão. Na fase depressiva, se identifica com o pai, se cobre de insultos e não se sente digna de existir. Na depressão, ela é filha de um pai que não tem direito à existência.Acredita que o pai deveria ter se suicidado: “Se ele não pode dar nada e só se dispõe a receber, então deveria meter uma bala na cabeça!”. A essa falta moral do pai resulta o seguinte: “Se alguém é como meu pai, então não deveria ter filhos!”, ou seja, ela não deveria ter nascido. Cottet afirmou que trata-se aqui de um “suicídio do objeto”, retomando a expressão de Lacan[15] (1992, p. 38) no seminário da transferência.
Koretsky[16] (2016) toma a mesma perspectiva de Cottet e Lacan e destaca como até no amor há um elemento dirigido ao objeto, e não ao Outro. A paixão é, então, claramente ligada ao objeto. Aqui se demonstra como o amor, mesmo se ele é procura de complemento da falta, vem sobretudo esconder a função do objeto parcial, esse objeto precioso, esse agalma que o apaixonado Alcebíades achou ver em Sócrates.
Diferentes usos do humor na clínica psicanalítica
4.1) Vinheta 1– Acontecimento riso
Em um dado momento, um sujeito procura análise para lidar com uma tristeza profunda que durava há muitos anos. Com diagnóstico de Transtorno Bipolar, dizia que há muito não sabia o que era estar na mania, passando por momentos depressivos bastante extensos. Em um determinado momento, enquanto narrava a duradoura luta para controlar o transtorno, diz que nunca mediu esforços para sanar completamente a intensa ansiedade que sentia nos momentos de mania. Seu grande ímpeto era se livrar totalmente das agitações de uma vida ansiosa. Uma vez conseguido por meio de inúmeras terapias medicamentosas, mergulhou em um longo período de isolamento e depressão. Essa demanda muito se assemelha ao que alerta Vieira[17] (2002) em seu texto “Como se ri da angústia?”, no qual define bem que, nos dias atuais, pouco se procura um analista sob o regime da falta, mas sim pelo excesso “de uma adição ansiosa aos gadgets ou às soluções tóxicas” (p. 2), como as drogas ou a pornografia.
Na era do imperativo superegoico “goza!” vivemos a experiência de gozarmos autisticamente, cada um com sua droga, o celular… o algoritmo. Um verdadeiro império das paixões do “a”. Lacan[18], em Televisão, esclarece os efeitos de uma vida desenfreada como um tédio que assola a contemporaneidade.
Voltando ao caso, o que o sujeito perseguiu a vida toda, e conseguiu de certa forma, resultou no triunfo da pulsão de morte na forma da anulação de qualquer encontro com a castração: “Não quero sentir nada!”. Tédio total! Nesse momento o analista tenta uma articulação: “Parece que você não mediu esforços para conseguir estar morto, não é”?! Surpreso, o analisante ri e dispara:“É! Lembrei que em certa ocasião perguntei a um psiquiatra se o remédio que me passara anularia totalmente a ansiedade e ele me respondeu que isso só seria possível, na santa paz do cemitério!”. Mais risos e, dessa vez, de ambos os lados. O corte da sessão aconteceu nesse ponto crucial a ser destacado: o efeito do humor na direção do tratamento como uma espécie de anzol que fisga o sujeito da soldadura com o gozo, numa espécie de reinauguração da abertura do inconsciente, uma abertura ao Outro, quando a palavra pode fazer efeito.
Retomando a noção do humor como transgressão, podemos destacá-lo como uma via de triunfo do prazer sobre a realidade, animando o desejo frente à pulsão de morte que nos habita. No Seminário 5, Lacan[19] dedicou-se a repensar a questão do riso de modo mais amplo que o chiste e o cômico, posicionando-o como condição primária do ser que antecede até mesmo a fala: “antes de qualquer palavra, a criança ri” (1999, p. 343). Dito de outro modo, é o riso, anterior à própria linguagem, que inaugura a relação com o Outro. Em brincadeiras utilizando máscaras ou até mesmo no Fort-dá, é o riso (ou o choro) que demarca um corpo afetado na relação com o Outro.
Gustavo Stiglitz[20](2023), em sua conferência na XII Jornadas da EBP- Seção São Paulo intitulada Acontecimento: Riso, afirma que:
o riso tem uma dupla cara: de um lado, articula-se na relação com o Outro. De outro, está em relação com o Um, como acontecimento de corpo, um riso que não converge com nenhum efeito de significação extraído de um witz.
De acordo com Stiglitz (2023), esse é um riso como desaparição de qualquer conveniência com a representação, um mais além da representação a um ponto real, detenção do automaton significante. Nesse sentido, o riso seria um acontecimento corporal que marca o ponto de gozo no corpo, fora de sentido.
Ainda sobre a vinheta em questão, nas sessões que sucederam à intervenção, no só-depois, foi possível perceber algumas retificações para o falasser: suas falas excessivamente vazias de cunho farmacológico foram aos poucos desinvestidas em prol do bem-dizer sobre sua vida, de como era marcado por uma relação mortificada com o pai (dono de farmácia), de como tinha se ausentado da vida social anos a fio.
Vinheta 2– Avareza da psicose
Trata-se de um caso de psicose, no qual Luz Casenave[21]se questiona se o uso do humor pode ser uma estratégia para a estabilização da psicose, visto que, através do seu uso, objetiva-se diminuir o investimento libidinal no delírio. Trata-se do caso Lia. Gurgel[22] (2022), ao comentar esse caso, assinala:
A ideia é que o psicótico, que não teve acesso ao simbólico – e, justamente por isso, dá testemunho de um encoberto a decifrar – por estar fixado em uma posição que o impossibilita de restaurar o sentido, possa compartilhar com o outro[23], quando, após o momento de sideração, advenha o efeito sujeito, consequente a um aporte de sentido ao não sentido.
Vejamos a clínica:
Lia chega à sessão com roupa de verão em um dia de inverno. A analista questiona: “por que você não usa um casaco? Você não está com frio?”. Ela responde: “com o que você quer que eu compre? Você sabe que eu sou pobre!”. A analista sorrindo diz: “você não tem dinheiro para comprar um casaco?”. A intenção da intervenção da analista visava apontar que a analisante pertencia a uma família rica, com alto poder aquisitivo. Lia responde secamente: “você sabe que eu sou uma sovina”. A analista ri, provocando algo da ordem de um chiste. Ao introduzir o riso na sessão, a analista visava fazer passar o objeto ao campo do Outro, dentro do possível.
Por outro lado, essa resposta chistosa da analista abre caminho para a injeção de sentido. No primeiro momento, a intervenção provoca em Lia desconcerto e temor. Ela não entende o porquê da intervenção e do riso e, por isso mesmo, reage ao sem sentido da pergunta da analista que faz uma manobra transferencial, explicando-lhe que sovina não é antônimo de rica, apontando a foraclusão da riqueza familiar.
Em um segundo momento, nota-se uma mudança no modo de falar de Lia, que passa a fazer piadas com a qualificação de sovina. O significante sovina trata-se de uma marca que clama por sentido, e a analista, com o riso, indica a possibilidade de uma outra leitura.
Gurgel[24] (2023) destaca:
O sorriso da analista e sua proposta de humor produzem certo desconcerto em Lia, operando como uma sanção simbólica que modifica a imagem torturante que ela tinha si mesma – ser sovina. Há um movimento de articulação do imaginário e do simbólico consequente do olhar e da voz do Outro, que faz limite ao real invasivo, dando testemunho da presença da analista.
Como efeito da intervenção, Lia consegue realizar pequenos gastos e desfrutar de férias. O caso nos interessa pela transmissão do efeito que uma intervenção pela via do humor teve, seja pela via do objeto, seja pela via do sentido.
4.3.) Vinheta 3 – O percurso do humor em um processo analítico
Esta vinheta faz referência ao testemunho de passe de Fabián Naparstek[25], comentado por Marcus André Vieira. Naparstek relata que o pai costumava ler o obituário nos jornais. Um dia, ele pergunta o motivo e o pai responde: “Quero saber quem já não toma Coca-Cola”. Essa resposta poderia ser vista como um chiste: em vez de morto, seria alguém incapaz de gozar dessa bebida. Mas o menino não consegue rir. Isso indica a forma como o garoto interpretava o romance familiar, especialmente o desejo do pai. O menino vivia dividido entre “um mundo de cruzes e estrelas de Davi” (NAPARSTEK[26], 2005, p. 60), ou seja, entre católicos e judeus. De um lado, os consumistas americanos, do outro, os filhos sérios e mortificados de Abraão. Essa visão dualista é o que cria o conflito e impede o riso.
Marcus André Vieira[27] situa a ambiguidade presente no chiste: o pai estava rindo dos americanos mortos ou admitindo que, no final, todos são consumistas, inclusive os judeus, que pensam estar fora disso? Provavelmente ambos. Diante da polarização em que vivia, o menino escolhe rejeitar as crenças judaicas, figura para ele maior de uma mortificação, levando-o a se opor aos ideais judaicos.
Somente na segunda análise ele consegue se situar de uma outra forma diante do chiste do pai sobre os obituários e enxergar a comédia no drama de sua vida, percebendo que tanto judeus quanto católicos consomem Coca-Cola. Na dicotomia que vivia, os excessos relacionados ao prazer oral eram comuns, pois estavam desarticulados de suas identificações, algo que ele descreve como uma postura “cínica”. A análise permitiu que ele transitasse entre os dois polos, provavelmente após muitas idas e vindas entre a satisfação oral e o sacrifício. Essa transformação só foi possível quando ele deixou de ver o pai como símbolo dos ideais falidos de seu povo e passou a enxergá-lo como representante de um gozo a mais, especialmente através do humor e da capacidade de rir. Foi preciso não mais crer no pai, ou crer mais ou menos, “escrer” no pai. Além disso, foi preciso reconhecer em si mesmo o mesmo traço de humor, sempre presente, percebendo que aquilo que ele antes via como um cinismo derrotista era, na verdade, um estilo pessoal.
O pai seguia lendo os obituários, e o sujeito, mais uma vez, pergunta o que ele estava fazendo. O pai responde, como antes, que estava verificando quem já não tomava Coca-Cola. Desta vez, o sujeito diz que já conhecia a piada, e o pai responde: “É verdade, ou eu mudo a piada ou mudo o público”.
Esse chiste reflete um fracasso, indicando que não é possível ter tanto a graça do chiste quanto o público. Além disso, ressalta que, para o pai, não havia escolha: ele preferia “perder o amigo do que a piada”. O filho, por meio da análise, percebe isso em si mesmo e consegue dar um novo destino a esse gozo. Até então, seu cinismo era um sintoma e uma forma de satisfação que não podia ser negativada. Com a ajuda dos chistes do pai, ele consegue “transitar da crença no pai para a crença no sintoma” (LAURENT citado por VIEIRA[28], 2021), entendendo o sintoma como um prazer singular que atravessa o fantasma e permeia a relação entre sujeito e objeto.
De acordo com (VIEIRA[29], 2021), “o sinthoma é incurável, mas não necessariamente intratável”. O pai do falasser, no testemunho citado anteriormente, continuará “perdendo o amigo sem deixar de rir”, pois não pode fazer de outra forma, mas, em algumas ocasiões, o chiste pode ser menos mortífero. Isso, por si só, já representa um grande ganho.
5) Toque do Real: mau humor e cólera
Em Vida de Lacan, Miller[30] (2011) relata que à medida que a doença ia progredindo, Lacan foi ficando mais quieto em seus seminários. E qualquer obstáculo era recebido de forma impaciente, pois era sentido como um doloroso empecilho ao seu progresso intelectual. Em seus últimos dois anos de vida, Lacan experimentou “uma agudeza de mau humor”, mau humor já presente anteriormente nele.
O mau humor experimentado por Lacan é lido por Miller (2011) como um afeto analítico original e essencial que, por propriedade, ao chegar em um corpo habitaria a linguagem; contudo, não encontra alojamento, “pelo menos não alojamento a seu gosto” (2011, p. 46). E é justamente por não encontrar alojamento na linguagem que Miller[31] (2010b, p. 465) chama esse afeto de uma das “paixões do objeto a”.
Essa paixão tem relação, inclusive, com a felicidade, tal qual Lacan pensou em Televisão, assinala Miller:
O mau humor poderia ser um pecado, como recorda Lacan, se não for nada além de tristeza. Poderia ser um grão de loucura se se tratar de uma paranoia. Mas pode ser um verdadeiro toque do real se quiser dizer – e por isso não é em absoluto incompatível com a felicidade de todos (…)” (MILLER, 2010b, p. 467).
O mau humor, então, está atrelado à impossibilidade de suportar o real, visto que o real sempre escapa ao significante. É nessa direção que Laurent[32] (2019) o relaciona com a impossibilidade estrutural, posto que “não é isso”, não se trata disso. O objeto pequeno a é sempre um resto e nunca A Coisa como tal. Estando o objeto sempre perdido, essa paixão do a seria um modo de superar a insatisfação histérica ou o isolamento obsessivo (LAURENT, 2019, p.57). Seria, portanto, o que resta de um rechaço à felicidade da repetição.
O mau humor seria um afeto que escapa à linguagem e que resta diante da impossibilidade de capturar A Coisa mesma. É importante destacar que essa paixão, por escapar à linguagem, não faz demanda, não deixa o outro culpabilizado, sem produzir um inferno doméstico, sinaliza Laurent (2019, p. 57).
Todo falasser sofre de uma perturbação do humor fundamental que é estrutural e não biológica; por isso mesmo, cada um é mais ou menos depressivo, mais ou menos maníaco, mas é preciso que nos separemos do júbilo da imagem, e isso se faz sempre de uma forma equivocada, afinal, há uma desarmonia estrutural entre significante e real, sendo o mau humor uma solução diante de uma harmonia possível, uma relação possível entre desejo e gozo (LAURENT, 2019).
Sendo assim, o mau humor seria o contrário do entusiasmo que é um afeto que está mais do lado da mania. Os dois apresentam esse “toque do real”, contudo, diante da expressão “não é isso”, e não havendo nada melhor, se acolhe essa constatação de uma forma entusiasta, o lado positivo do humor, ou a partir do seu lado negativo, o mau humor.
O passe de Irene Kuperwajs[33]aborda esse afeto em sua análise. Ela relata:
Transitar o deserto depois do atravessamento da fantasia implicava em terminar de fazer o luto pelo objeto que fui para o Outro, também para a analista. E, se bem que finalmente alcançado o alívio, também me invadiram a tristeza, o desconcerto e o mau humor (2020, p. 140)
Já em suas últimas sessões, Irene ficava muito mau humorada por perceber que pininhos não encaixavam nos buracos: dessa vez interpretou um sonho próprio onde um resto se apresentava, mas aguardava um acontecimento imprevisto como que idealizando o final. Até que a analista, com toque de humor, intervém. O riso, que durou meses, venceu o mau humor desse falasser, sem esquecer daquilo que é ineliminável:
(…) buscava que tudo encaixasse e gozava da retenção.
(…) Não sou de cólera fácil… Como lhes contei, não é meu estilo, mas nem a palavra, nem o grito, nem o choro ficam mais engasgados ou retidos (2020, p. 142).
Elena Yeyati faz uma interessante observação sobre diferentes espectros do humor que vai da fúria e passa pela cólera, arrebatamento, desgosto, mau humor, até chegar em falar em traços desses afetos. Assim, o aspecto das modulações do mau humor nos leva à cólera. Miller[34] (2010), em El banquete de los analistas, assinala que o mau humor é a “cólera cotidiana”. E no livro de Brodsky[35], Pasiones Lacanianas, Marisa Chamizo[36] afirma que a cólera seria uma das formas do mau humor, talvez o tom mais elevado desse afeto.
No Seminário 5, Lacan[37]localiza, inicialmente, a cólera no registro da lógica fálica. Para o homem, o falo só pode ser concebido sob o pano de fundo do não ter; já para a mulher, ocorre o contrário – ela não o tem, mas sob o pano de fundo de tê-lo. Isso explica a raiva associada ao penisneid, que não é apenas um anseio. Essa cólera, especialmente na mulher, está enraizada nesse sentimento de inveja. Para Chamizo (2020), aqui Lacan passa do registro da inveja, do penisneid como inveja do pênis, ao registro da cólera pelo encontro com o “não há” da relação sexual.
No Seminário 6, Lacan[38], ao tratar de afeto, afirma que também pode acontecer de, no interior do simbólico, ele constituir uma irrupção do real, sendo assim perturbadora. A origem da cólera seria justamente, diante da trama simbólica bem montada, perceber que os pininhos não entram nos buraquinhos: “Toda cólera, é fazer o mar se agitar” (LACAN, Seminário 6, 2016, p.160). A cólera é o afeto paradigmático desse toque do real, pois se exprime de modo mais direto e sem contar com os poderes da palavra. Segundo Brodsky (2019, p. 144), “depois de uma `grande cólera´o céu é azul, tudo está bem” [tradução nossa].
No testemunho de passe de Ana Lydia Santiago[39], a cólera ocupa um lugar fundamental e disso recolhemos um ensino: é um indicador do real que o amor não recobre. O seu sintoma se inscreveu como um “não saber falar” e essa dificuldade remetia ao incompreensível do amor do pai. Marcada pelo desejo paterno em ter uma filha que recebesse o mesmo nome que sua esposa, se torna uma atenta observadora dos indícios do que melhor era conveniente ao outro, para encaixar e ser reconhecida como a filha modelo, de comportamento exemplar. O termo “encaixar” aqui nos permite fazer direta associação com a indicação de Lacan de que a cólera se produz quando as cavilhas não encaixam nos respectivos buracos, ou seja, a identificação com a menina ideal constituiu uma defesa contra o real, enquanto a ilusão da armadura neurótica ainda a fazia “funcionar acreditando” que as cavilhas encaixariam nos buracos.
O significante cólera, em francês colère, surge como um equívoco em sua segunda análise, uma formação do inconsciente que faz referência ao nome de sua primeira analista. A cólera enoda sua escolha transferencial com o gozo sem sentido das mulheres de sua família: sua mãe e sua avó.
Inicialmente, Ana Lydia Santiago (2018) localiza a cólera situada do lado do Outro: no caso da mãe, pelo modo de difamar seu pai; e no da avó, pelas expressões hostis ao tratar sua única nora. Entretanto, a experiência da análise instalou um processo de subjetivação do gozo que colocou a menina na cena do inconsciente. Assim, a cólera se mostrou como um fragmento de real do sintoma. À medida que a análise segue, a cólera passa a aparecer nos sonhos e se corporiza. Aparecia em crises esporádicas de raiva e de ciúmes contra o parceiro, sintoma que se converteu em um afeto indesejado que deveria ser controlado – e aí o contraditório para quem almejava o bem-dizer.
O amor, insuficiente para recobrir a cólera, foi o tema que teceu a trama de sua análise, privilegiando, na montagem fantasmática, o objeto olhar e o gozo domesticado pelos significantes do amor ao pai. As primeiras fraturas do fantasma implicaram uma separação – do olhar fascinado do pai que recobria a ausência do olhar do lado da mãe; e uma perda do lugar de exceção que lhe dava uma suposta garantia de enfrentamento do gozo opaco do ódio materno. A cólera, nesse momento, já não era apenas própria da linhagem feminina, mas também um grito diante da renúncia do pai de conter os excessos dessas mulheres.
Ao final de análise aparece um sonho que causa surpresa: crianças são atingidas por tiros de fuzil – coups de fusil – vindos de toda parte, corpos caem por toda parte no chão. Pergunta-se: “O que é isso? Corpos de crianças caídos, atingidos por tiros de fuzil?.” E a resposta é recebida: “coup de foudre!”, resposta que também causa surpresa pelo inesperado da substituição. Algo inteiramente novo sobre o qual não há saber. É preciso lidar com isso.
A cólera relatada no testemunho de Ana Lydia Santiago (2018), portanto, diria respeito ao ponto opaco de satisfação do sintoma à resposta do real que fura o dizer. Ao final da análise, esse significante inicial da transferência se revelou como algo contido na ambiguidade do coup de foudre, raio fulminante/fúria que destroi, incluindo um arrebatamento vivo para além do mortificante da fúria.
- Concluindo…
Para finalizar elencamos diferentes usos do humor na experiência analítica que usamos ao longo de nossas discussões:
- Como invenção;
- Como modo de lidar com o furo;
- Como tratamento do supereu;
- Como efeito de um processo de análise – do lado do falasser;
- Como perturbar a defesa – do lado da intervenção do analista;
- Entre outros usos.
Sabe-se que, para compreender a abordagem da teoria dos afetos, ou até das paixões, Miller[40], em A propósito dos afetos na experiência analítica, nos levou a concluir que é preciso passar da psicofisiologia à ética, já que nem a biologia e nem a psicofisiologia conseguiriam acessar o gozo. O aparelho mais adequado para tal seria a ética, por cernir o gozo. Lacan a definiu como a ética do bem-dizer, ou seja, não um manejo de significante para significante, mas um efeito de significante com o gozo e sua ressonância. A ética do bem-dizer, para Miller, consistiria no cernir, no saber o que não se pode dizer.
