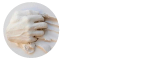Caroline Leduc (ECF/AMP)
“E a gente ainda se amará, quando o amor desaparecerá”[1]
A palavra da época, se houvesse uma, poderia ser a de crise: crise econômica, crise de valores, crise de identidades… A partir de agora, a desorientação caracteriza as nossas existências neste mundo que não assimila mais nenhuma teoria sintética – cada uma tendo demonstrado seu impasse particular. O amor, pelo contrário, parece escapar dessa crise generalizada da qual ele aparece como curativo. Que ele seja apresentado como refúgio contra a crise, valor supremo dando sentido à vida ou remédio às nossas feridas identitárias, o amor é o lugar de todos os consensos: lugar comum por excelência, onde se reencontraria uma sociedade finalmente reconciliada com ela mesma.
A sexualidade, em contrapartida, provoca sempre escândalo e divide posições morais. Se a exposição de suas manifestações, que se tornou comum, banaliza seu lugar, o sentimento de uma transgressão persiste e acompanha a fascinação que ela exerce: procuramos chocar nosso próprio pudor, fazendo-o, assim, existir dessa maneira paradoxal. Desse modo, a libertinagem afirmada, que tinha podido parecer uma solução às dificuldades conjugais dos anos 70, aparece ainda mais hoje como um avatar de certa miséria sexual – de um vício um pouco patético, como o ilustram numerosos documentários de má qualidade sobre esse tema que inundam nossos televisores e fazem, aliás, altos pontos de audiência.[2]
Exemplarmente, a paixão midiática que suscitou a queda de DSK assinala um julgamento popular sem precedência: fora do amor – e o que supomos de uma sexualidade normal – não há salvação. Pela rapidez de sua queda, DSK transformou em profecia a afirmação de François Mitterrand no começo dos anos 90 a seu propósito, qualificando-o de “gozador sem destino”. O rei está nu, é o caso de dizer. Não obstante os problemas políticos do caso e sem julgar a violência das práticas sexuais imputadas a DSK, a condenação de uma sexualidade fora da norma e a jubilação secreta de ver fracassar o casal que ele formava com Anne Sinclair não faltaram no interesse popular do caso. Só se trata de justiça, quando gozamos fora da norma, em resumo. Esse precedente midiático desencadeará ainda a peopolisation[3] do tratamento da informação política e desenha em pano de fundo um modelo de laços de amor e de sexo diretamente inspirado nos filmes hollywoodianos que estão dentro de uma convenção e sem atrativo. Só podemos desejar coragem aos homens e às mulheres da classe política no trabalho de alinhamento da imagem que eles terão que dar como prova de conformidade da sua vida privada ao que essa moralidade de desenhos animados impõe.
No entanto, essa visão ideal de laços apaziguados em que sexo e amor encontrariam harmoniosamente o seu lugar no seio de um casal cúmplice e eternamente feliz não resiste à primeira discussão de bar ou, mais diretamente, à provação que cada um passa na sua vida sentimental. Sendo dado que a cada dois casamentos, um termina em divórcio, e que a liberação sexual não manteve suas promessas, as gerações atuais evidenciam um desamparo face à necessidade de inventar um modelo no encontro com o outro que as satisfaçam. O direito a gozar promulgado por uma pornografia de fácil acesso, colocando em cena uma relação estereotipada de homens e de mulheres, na maior parte das vezes brutal, só pode se opor a uma representação idealizada da realidade de um amor terno e apaixonado onde se reconciliaria a diferença dos sexos no compartilhamento e no respeito mútuo. A exacerbação permanente do desejo de felicidade individual, associado ao fracasso das gerações precedentes em transformar duravelmente o modelo tradicional do casal fundado no interesse das duas partes, conduziu seja a um fechamento neste último – com, por vezes, regras morais mais severas que antes em matéria de sexualidade –, seja à exasperação de impasses. Deriva disso uma fragmentação dos percursos sentimentais em pequenos períodos de vida, às vezes radicalmente opostos uns aos outros, em que a sucessão dos balanços confronta cada um a sua mais profunda solidão. O alongamento da duração de vida, benefício da medicina moderna, teve esta consequência inesperada: podemos amar e desejar a mesma pessoa depois de quinze a vinte anos de vida compartilhada?
É o amor na praia (ah ouh cha-cha-cha)[4]
O amor não escapa então à fragmentação das ideologias e das teorias que caracterizam a nossa época. Em relação a isso, há somente soluções singulares, incluindo aquela do casal clássico que não é mais o modelo imposto socialmente, mas faz parte de uma escolha. É então a fidelidade que encarna sintomaticamente as questões que esta liberdade de escolha coloca quanto ao laço, fabricado por cada um, entre o amor e o sexo.
Rompendo com a tradição multissecular da hipocrisia na matéria, numerosos sites propõem então encontros adúlteros, supostos ventilar a sufocante atmosfera conjugal. Não é desinteressante ler os artigos que acompanham o candidato infiel até a sua inscrição, tendo em vista a descomplexificar o assunto julgado “ainda tabu” da infidelidade e lhe dando nas mãos todas as justificativas adequadas ao seu ato, próprias a varrer as reticências que ele ou ela poderia conservar. A infidelidade, assim ponderada, não é propriamente dita um encontro do qual o sentido pleno implica uma surpresa, enorme num segundo momento de uma potência interpretativa quanto à história inicial assim desprezada. O adultério é muito mais apresentado como participando a uma pragmática, e quase a uma rotina de vida conjugal que asseguraria, paradoxalmente, a longevidade. Trata-se, então, menos da transgressão de um limite interno que de tornar permanente o risco da perda do cônjuge legítimo – este ficando, desde então, indesejável. O argumento principalmente avançado é este da fidelidade a si mesmo e a seus desejos, que tomaria o passo sobre toda consideração. Não saberíamos dizer melhor a extrema solidão que preside no seio mesmo dos casais, cada um estando hoje em primeiro lugar tomados pela solidão do gozo, que suplanta em importância as regras sociais ou íntimas antes privilegiadas.
Outros tentam com mais ou menos contentamento o suingue, que continua marginal, mas é surpreendentemente procurado por casais cada vez mais jovens – alguns na faixa etária dos 20 anos. Desde então, frequentemente essa prática tinha em vista encontrar um segundo respiro sexual à relação de casais engajados juntos desde muito tempo, numa tentativa de manter vivo o amor, tratando diretamente pelo outro os eventuais transbordamentos sentimentais que a relação sexual poderia gerar. O fato de que certos jovens se engajem nisto sem mesmo esperar o sufocamento de seu desejo um pelo outro transforma em modo de vida o que era somente um arranjamento, sob a influência de certa pornografia democratizada pela Internet e de uma injunção a gozar promovida massivamente nas mídias.
Trata-se, nos dois casos, de fazer durar o amor, evitando a frustração sexual: subtraindo o amor do sexo como no adultério ou, ao contrário, atando-os nas práticas de suingue.
Eu confesso eu babei, você não meu amor[5]
O poliamor é, por sua vez, um fenômeno mais complexo. Teorizado notadamente pelo movimento libertário, inspirado às vezes de uma leitura de Lao Tseu, ele consiste em “viver das relações sentimentais com vários parceiros, engajando ou não a sexualidade, em toda franqueza e no respeito de cada um”[6]. A sua ilustração célebre na França é a relação de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir, mesmo se ela não portasse este nome. Os princípios são a recusa da possessividade do corpo do outro e de exclusividade amorosa; a franqueza, o diálogo e o respeito; sem segredos nem mentiras, a situação se coloca segundo os acordos concluídos abertamente e reciprocamente entre todos os parceiros, e pode evoluir no tempo segundo o avanço das negociações. O poliamor pode se aplicar a pessoas que desejam ficar solteiras ou que têm parceiros, que se amam às vezes entre si. Eles podem viver separados como juntos, a dois ou mais, e algumas vezes mesmo educam crianças frutos de uma ou várias uniões. As modalidades são, então, extremamente diversas, dependendo dos votos de cada uma das pessoas em jogo. Pode existir uma relação principal e relações secundárias, mas um princípio de não hierarquia das relações é o mais frequentemente presente. Para Françoise Simpère, jornalista poliamorosa ela mesma casada há trinta anos, “o poliamor torna mais realista o amor eterno” e, de uma vez só, “compensa a injustiça de ter só uma vida”[7]. Cada um dos amores é assim suposto ser único, sem que uma hierarquia ou que a rivalidade intervenha. No plano amoroso, todas as relações têm a mesma importância, mas podem carregar projetos diferentes.
Os poliamorosos são fiéis a todos os amantes, eles proclamam. Trata-se de deslocar a questão amorosa daquela da fidelidade. A duração da relação não está mais no primeiro plano, nem mesmo o apagamento do desejo – a multiplicidade dos parceiros mantendo-o sempre vivo. O poliamor, longe de ser um pretexto à orgia, supõe um conjunto de regras muito estritas e constantemente reformuladas para a satisfação de todos, tendo em vista a realização de si – o que, muito frequentemente, consiste em conseguir controlar os ciúmes, do qual os adeptos do poliamor não negam a existência nem o potente incômodo.
É um hiperindividualismo assumido que domina no poliamor: ele é suposto ser uma escolha individual ao invés de ser uma escolha de casal e parte da ideia de que ninguém pode satisfazer sozinho o conjunto das nossas necessidades durante a vida. Uma satisfação exaustiva está então no seu horizonte. Mas ela é possível? Talvez ainda menor, sendo dado o número de parceiros e os desejos necessariamente contraditórios? O equilíbrio encontrado pode se revelar falso, um dos parceiros se reconhecendo como o infeliz da situação, mesmo se ele pode fingir o contrário por um certo tempo, incluindo a seus próprios olhos. Admitir aparentemente os termos do contrato não significa que não procuraremos subvertê-los inconscientemente, por exemplo, para ser o eleito de um e do outro, traindo o princípio de não exclusividade. Dois infiéis, dando livre curso ao seu adultério recíproco em poliamor, podem achar muito menos picantes as suas relações até então muito lícitas… Os exemplos não faltam de emboscadas deslizando entre as linhas do contrato, interrompendo às vezes bruscamente o processo mesmo dessas negociações infinitas, com o fim da(s) relação(ões).
A crítica frequente do poliamor, que consiste em denunciar nela uma impossibilidade de se engajar e de escolher, não parece tão pertinente – de qualquer forma, por que não, se tem para todos os gostos? Um marido infiel é mais engajado amorosamente em relação à sua mulher? É muito mais o estatuto das negociações entre os parceiros que é problemático, baseado na crença num livre-arbítrio em matéria de amor que domesticaria todo transbordamento pelo controle total das práticas autorizadas ou proibidas, e que pretende que tudo o que tem a ver com o amor e o sexo seria dizível. Mas as cláusulas desses contratos íntimos, tão detalhadas sejam elas, não recobrem necessariamente o que efetivamente é traição, o que sempre nos surpreende, depois de todas as precauções tomadas. É a crença louca de que podemos resolver as contradições do amor e do sexo, sendo que toda tentativa de controle do gozo está destinada a fracassar – o que faz do poliamor um fiasco entre tantos outros.
O amor é uma conversa fiada[8]
Existe um estudo, baseado na neuroimagem, segundo o qual o amor faz desaparecer o senso crítico: sem piada. A análise das imagens cerebrais tem isso de fabuloso – ela permite verificar um a um os provérbios das nossas avós, colocando em série as suas contradições: o que se parece se junta; os opostos se atraem. Uma das últimas teorias biológicas em voga sobre o amor nos ensina que o amor-paixão dos começos – durante três anos, segundo Frédéric Beigbeder, mas somente dezoito meses para os científicos estraga-prazeres – só seria devido à produção intensa de ocitocina, o que explicaria o fracasso de muitos casais incapazes de se passar desta droga estúpida que é o amor e de passar à rapidez de cruzeiro do amor-razão. Esta teoria não explica, no entanto, como a produção desses hormônios acaba por se tornar rara…
Colocar o problema no plano biológico, não está aí uma metáfora dessa solidão da pulsão à qual a época nos confronta? Além de uma pulsão de ordem puramente masturbatória, que, aliás, termina sempre em decepção, trata-se também da solidão que nos reenvia em eco nosso apelo por um amor que viria perfeitamente lhe responder, e que nunca está presente, não importam os prazeres que nós encontramos em compartilhar a vida com nosso parceiro sentimental.
Na batalha que o cinismo e a ternura pilotam para arbitrar sobre nossas escolhas de vida, o que emerge principalmente do emaranhado do amor e do sexo é sua potência ficcional e a necessidade que nós temos disso. O amor é o fracasso ao qual não nos resolvemos, compreendido como um ponto lógico inerente à condição humana: sintoma supremo, sempre potente a se reinventar. Como dizia Céline, “o amor, é o infinito colocado ao alcance dos poodles”. Nossa necessidade de histórias é impossível de saciar, e a gente nunca inventou nada melhor que o amor para se contar histórias, organizar e desorganizar teorias.
Nós vivemos felizes e tivemos muitos filhos. Mas a história não diz nunca como.