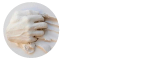Oscar Ventura (EOL/AMP)
Vou orientar-me através de alguns recortes, peças soltas sobre o amor. Primeiro, proponho colocar em tensão um binômio clássico: amor e repetição. Depois, explorar as coordenadas do amor e a sexualidade, assim como formular algumas questões a respeito de seu lugar no mundo contemporâneo. Farei uma breve reflexão sobre o amor e o tempo, para concluir sobre o amor, o ódio e a segregação. Parece um programa de estudo, mas não se alarmem: serão pinceladas sobre essas questões para poder, antes de tudo, oferecer-lhes uma torsão a mais ao tema do amor.
Quando anunciei o título desta intervenção para Elisa, na realidade, não sabia o que queria transmitir com ele. Surgiu de improviso. Inclusive, tive com Elisa trocas por WhatsApp a respeito da sintaxe, coloquei o Amor em letra maiúscula, um S1, seguido de um ponto e, rompendo um pouco com a gramática, pus o sempre com minúscula e o Outro com maiúscula.
Enfim, começarei dizendo algo geral a respeito desse Outro que aparece no título. Devo confessar que fiquei surpreendido com o título que dei e, nesse momento, tive uma ideia muito clara de como poderia desenvolvê-lo. Mas essa ideia – que não anotei, confiando em minha memória – se evaporou. Não consegui recuperá-la até que me vi na encruzilhada de ter que escrever esta conferência. E devo lhes confessar que o título me alarmou um pouco porque não sabia muito bem o que queria dizer, me parecia contraditório, porque – efetivamente e com muita frequência, em um sentido clássico, freudiano se vocês quiserem, inclusive no primeiro ensino de Lacan – identificamos o amor com a repetição, mais que com a outridade. Amor e repetição constituem um binômio central na doutrina analítica, e não podemos negar que o amor tem essa ancoragem na repetição. A própria experiência clínica é tributária disso. A própria concepção da transferência se funda para Freud na repetição de um amor, mesmo que artificial, ou seja, desencadeado pelo artifício da transferência, não deixando de ser a renovação do velho amor.
O amor repetição
Se nos aproximarmos de uma forma geral, como num voo de um pássaro, da teoria freudiana do amor, observamos que a matriz do amor tem, em última instância, como suporte o Édipo freudiano. Isso nos conduz a uma estrutura da subjetividade em que o amor fica apanhado nas redes da repetição. Quando nos detemos nos textos de Freud, em suas contribuições à psicologia da vida amorosa, tudo nos conduz a pensar que, quando amamos, não fazemos mais que repetir. Encontrar o objeto é sempre reencontrá-lo sob outras condições, mas evocaria sempre aquele objeto primordial; nesta direção, todo objeto de amor seria substituto de algum objeto fundamental, prévio à barreira do incesto. A construção freudiana do amor está feita para demonstrar o amor como repetição.
Por outro lado, há que dizer, também, que esta condição do amor como repetição não é algo que se teria que dar por obsoleto, algo que tenha perdido sua vigência na doutrina analítica; em vez disso, é uma das condições necessárias do que Freud chamava a dinâmica da transferência. Sempre em uma cura encontramos a vertente do amor como repetição e os efeitos dessa repetição se traduzem de diferentes maneiras. Pode ocorrer e é bastante frequente que a repetição se enode ao sintoma, que seja a causa do mal-estar que produz o sintoma, quando o sujeito sempre se encontra com o mesmo. É quando o excesso de gozo se liga ao amor, quando as máscaras que velavam o gozo caem, caindo a função de véu necessária que o amor requer: há sempre algo insuportável nessa revelação. A repetição é um esforço em neutralizar esse mais posto em jogo; é uma tentativa, sempre falha, de outra coisa; nesse sentido, o amor se torna sempre o mesmo. Pode ocorrer que a repetição seja a própria solução. A experiência clínica nos faz ver esse traço da repetição como solução, é a face de rotina do amor. Muitas vezes é conveniente, sob um ponto de vista clínico, dar consistência a essa rotina, porque às vezes pode adquirir a fórmula: a rotina do amor ou o pior. A experiência analítica, em todo caso, não deixa de ser uma máquina de explorar os limites da repetição no que concerne ao amor. De pôr à prova até que ponto o amor pode ir mais além. E de que maneira. Porque as soluções, quando o amor se inscreve mais além da repetição, adquirem uma forma única para cada Um. Não há um amor igual a outro. Quando transitamos num território que vai mais além da repetição, então o amor não é mais sempre o mesmo, é quando tem a possibilidade de ser sempre Outro para cada Um.
Lacan nos oferece, efetivamente, a possibilidade de explorar este território, justamente porque nos faz ver que o dispositivo analítico, o próprio corpo do analista, poderíamos dizer, pode converter-se em uma objeção à repetição em que o amor se fixa. A questão inédita do amor formulada por Lacan subverte a lógica do amor como repetição, vai contra a inércia do amor. Para Lacan, o amor é invenção, em primeira instância é uma elaboração de saber, mas de um saber muito singular, um saber que diz respeito ao objeto. O amor é um modo de dirigir-se ao objeto pequeno a a partir do Outro do significante; nesse sentido, é necessário um relato do amor. Mas Lacan não homologa o relato com a história de amor. Em vez disso, o amor é o que faz ressonância em um corpo dessas palavras mais além do relato. Essa é a função que cumprem as palavras de amor, as cartas de amor, um esforço em oferecer ao amor um nome próprio que possa dizer algo sobre esse objeto. É inventar, a partir de um signo, algo que não consegue se formalizar, mas, no entanto, se encarna. É construir nas bordas desse objeto, como diz Jacques-Alain Miller, “uma obra de linguagem”.
É evidente que nos esforçamos para alcançar a linguagem pela via da escritura, da escritura que podemos fazer da experiência do amor. Mas a escritura, afinal, só nos oferece algo em relação às matemáticas, em que operamos por meio da lógica formal, por processos de extração de certo número de coisas e que definimos como axiomas. E o que se extrai desta maneira são letras. Essas letras que extraímos não permitem escrever uma memória do amor, nem tampouco há memória de uma Psicanálise que possa escrever-se em nenhum suporte material. Na experiência de uma análise tudo se apoia sobre uma metáfora. Essa metáfora que construímos nada diz de fato que seja válida.
Alguém poderia imaginar que o amor seria algo que se imprime a partir das experiências primárias e que as marcas dessa experiência reativariam seu funcionamento, sua lógica. É verdade, isso é validado pela tradição freudiana: o amor tem seu lado de marca antiga, de identificação, inclusive. O amor como marca está destinado à repetição pela via do significante, se escreve em algoritmo. O amor neste registro fala para si, produz um laço que o dobra sobre si mesmo. Não obstante, o resultado de uma análise, sua conclusão, nos permite também captar outra relação possível com o amor que o desloca do campo da verdade, da verdade do Outro, ao acontecimento de corpo como resposta ao impossível de dizer do amor.
O amor Outro
Penso que é lícito, para desativar até onde se pode o pathos da repetição no amor, pôr em causa um amor que se inscreveria no território de $ e do Outro. Um amor que possa escrever outra coisa a partir do impacto de lalíngua sobre o corpo. Seguramente, ambas as dimensões funcionam articuladas, mas sempre até um certo ponto. Do lado do Outro temos as marcas, as identificações, as escansões sobre as quais se constrói um relato de amor, mas isto se produz sobre um fundo que sempre escapa. Neste trânsito, em algum momento as marcas do amor se perdem. Sem dúvida, este é um momento inquietante e, ao mesmo tempo, fecundo da experiência clínica. Nesse território, nesse litoral sem as marcas do velho amor que nos orientem, é possível verificar que o ato de falar de amor, que as palavras de amor podem surgir sem memória nenhuma para sustentar-se, sem Outro. Porque o que está em jogo não são os significantes do Outro, e sim os buracos pulsionais que a única coisa que escrevem são os impactos do gozo no corpo, e isso não tem tradução possível.
Ao falar, no próprio forçamento da palavra que a experiência analítica implica, afinal se cria a própria língua que habita cada um, não há universal que resista a isso. Tal como lembra Jacques-Alain Miller, “o mais fundamental da língua consiste em que se cria ao falar”. E podemos acrescentar que o que orienta o sujeito não é o Outro e sim esses buracos pulsáteis que afinal fazem com que os corpos falem de amor orientados por experiências sem representação nenhuma.
Se seguimos a bússola de que a língua se cria ao falar, não há nenhum Outro que possa dizer algo sobre a experiência de amor. É, em vez disso, a surpresa de lalíngua atada ao acontecimento de corpo o que permite, até onde se possa, objetar à insistência da pulsão de morte.
Podemos dizer de outro modo. O amor descompleta a significação, faz com que aí onde se escreve não se possa dizer dele a última palavra. Os mínimos detalhes de sua experiência, para cada um, se tornam fundamentais. No decorrer de uma análise, os espelhismos que o amor provoca são reduzidos, são atravessados; sua inscrição fica fora do campo da identificação e esse movimento é tributário da extração do objeto que condensava as condições de amor. Então, a partir daí, o amor pode se tornar Outra coisa graças ao vazio que provoca essa operação.
O amor muda no final da análise. É importante assinalar a passagem de um amor condicionado a um amor com condições. O amor condicionado fantasmaticamente é tributário da escolha no marco da repetição e põe em primeiro plano um fazer difícil, uma dificuldade com a falta, pois está prisioneiro da lógica da fantasia. Geralmente, destina-se a mudar o outro, o parceiro, sem poder ver que isso mesmo que se recusa no outro é o que motivou inconscientemente a escolha amorosa.
O amor com condições é preciso modalizá-lo, porque sabe quais são as condições próprias e leva em conta as do outro. O amor significa que a relação ao Outro está mediatizada pelo sintoma, que permite cernir e localizar o objeto, mas, como diz Lacan no seminário 24, o amor é vazio. Ou seja, é um amor que conta com as condições de gozo sintomatizadas e que pode desfrutar da liberdade de um vazio liberado.
O testemunho da experiência de amor verifica que não há possibilidade de homologação, não se inventou sua clonagem no momento. Não há, portanto, um amor igual ao outro; o amor, de alguma maneira, é sempre outro. Não somos mais que um. O Amor aspira ao Um. Para nos entendermos, diz Lacan em Mais, ainda: “[…] Há tantos Uns como se queira; que se caracterizam cada um por não se parecerem em nada […]”
Mas, não obstante, os ecos do amor não deixam de ressoar no conjunto; o amor está na boca de todo mundo; não se deixou, ainda, de falar de amor. E esses ecos dão conta, se me permitem dizê-lo assim, do impossível de cernir o amor pelo aparelho simbólico. A psicanálise está advertida deste impossível e é por isso que Lacan propõe um amor mais digno que o blá-blá-blá onde se borra sua autenticidade. Talvez, uma das formas possíveis de nomear o amor mais digno nesta época em que os véus se desgarram é aquele que possa sintomatizar-se de tal maneira que permita não fazer do gozo pura obscenidade.
O amor, o discurso capitalista e o sintoma
Sem dúvida, não podemos ignorar as coordenadas do discurso que hoje habita o laço social. Nós o repetimos muitas vezes: o discurso capitalista foraclui o amor. Empurra para reduzir o amor a uma construção que sonha em torná-lo uma fórmula universal sob uma pluralidade de práticas. Desde rastrear sua causa em um gene que possa identificá-lo, até a suposta química que o desencadearia, passando pelas pedagogias do encontro sexual, no qual a pornografia é seu instrumento privilegiado. O discurso empurra para produzir uma ascese do amor, pretende destituí-lo de seu impossível, oferecer-lhe um nome definitivo que possa inscrever-se como uma prática a mais, desfazer-se do incômodo que o amor desperta. Na busca de sua certeza, não encontramos mais que a impotência de um uivo, que busca achar no amor a lei que falta ao real.
Provavelmente, é nesse ponto que tudo se torna deriva. Entre a universalidade de sua presença e a diferença absoluta de sua consumação, há o abismo que abre a ausência da relação sexual. O ato analítico modula esse abismo até torná-lo, quando se consente a isso, a própria causa do desejo. A práxis da psicanálise revela que o amor é puro acontecimento. Ele se inscreve mais além, tanto da verdade formalizada, como dos cativeiros imaginários por onde passa. É sob esse telão de fundo que o amor pode tornar-se novo, que pode surpreender o sujeito, como dizia Lacan, em “um dizer que faz acontecimento. Que faz ressonância no inconsciente do Outro”.
Por outro lado, verificamos a dificuldade que existe na contemporaneidade para que os sujeitos possam se orientar no campo do amor em um mundo de práticas cada vez mais bizarras e de corpos cada vez mais ausentes. As práticas de gozo contemporâneas se inscrevem neste programa do discurso que pretende executar uma ascese do amor. De fato, as formas que tomam, por exemplo, as práticas sexuais estão cada vez mais despojadas de um relato; a coalescência do discurso capitalista e da ciência facilita um campo em que a experiência de gozo seja transitável sem as perturbações que o amor implica. E para isso desencadeia até à saciedade o campo da fantasia e sua promessa de gozo imediato. Podemos nos perguntar se a tentativa de fazer do gozo sexual um contrato que se inscreva fora do campo do amor será um destino que tome o laço social ou se, pelo contrário, encontraremos as fórmulas de pôr os paus nas rodas da maquinaria do discurso. De uma forma ou de outra, inclinamo-nos a recomendar amplamente a leitura de Justine, de Sade, e, desse modo, poder verificar qual é o destino final quando se pretende formalizar um contrato sobre o gozo sexual.
Vou seguir um pouco sobre esse fio. Estou me perguntando algumas coisas em voz alta. Atravessamos um momento inédito, assistimos a um cenário do mundo no qual a flutuação entre presença e ausência dos corpos é inédita e muda a uma velocidade vertiginosa. O cálculo não consegue escrever o pedaço de real que escapa à verdade formalizada. Provavelmente, é ainda muito cedo para extrair um saber dos efeitos que a pandemia vai operar sobre o laço social; não sabemos, a partir da profunda retificação que estamos vivendo, o rumo que as coisas vão tomar. E não há outra possibilidade que lidar com essa incerteza. A pandemia põe à prova também a capacidade de invenção. Talvez agora, mais que nunca, é necessário materializar este significante para lhe dar um alcance real. É um desafio escrever as modalidades do que é uma invenção e transmiti-la, para que isso tenha algum efeito entre nós e para além de nós. Não convém, por outra parte, escrever as invenções no campo do ideal. Não podemos permitir esse deslocamento; é necessária uma disjunção entre invenção e ideal para dar um alcance possível a esse pequeno detalhe de cada um que possa oferecer-nos, afinal, a possibilidade de algo novo. Disso se trata também no amor.
Podemos formular uma pergunta que vai mais além da pandemia, uma pergunta que preocupa nossa época. O amor está ameaçado?
Não são poucos os que pensam que a experiência do amor estaria em vias de extinção. São numerosos e plurais os discursos que advertem do perigo em que cada vez mais é pronunciada sua ausência no laço social. Que sua metamorfose o torna irreconhecível, parecendo que ele perdeu sua consistência. Por um lado, pode se escutar em um conjunto mais amplo uma certa nostalgia no sentido de que o amor já não é o que era. Mas não sabemos muito bem o que ele é agora.
Para sociólogos como Zygmunt Bauman, que se constituiu em uma referência clássica e indispensável no que diz respeito ao tema do amor e da contemporaneidade, o amor se torna líquido e se dilui, escapa das mãos. Para Zygmunt Bauman, existe
uma enfermiça fragilidade e vulnerabilidade nas parcerias (…) uma fluidez, fragilidade e transitoriedade implícitas que não têm precedentes caracterizam toda classe de vínculos sociais, aqueles que apenas há algumas décadas se estruturavam dentro de um marco duradouro e confiável permitindo tramar uma segura rede de interações humanas […]
O filósofo Alain Badiou se viu na urgência de publicar um Elogio ao amor (Éloge de l’amour) – quando ele transformou em livro um diálogo seu com o periodista Nicolas Truong, publicado pela Flammarion em 2010. Sua preocupação reside justamente em que “o amor deve reinventar-se mas, também, simplesmente, deve ser defendido porque se encontra ameaçado por todo lado”.
Ambas as posições coincidem, sem dúvida, em duas questões centrais: a da diferença e a do tempo. Consideram que um fundamento da experiência do amor é suportar a diferença e o outro que deve perpetuar-se no tempo. “É uma construção de verdade” – diz Alain Badiou – “um amor verdadeiro é aquele que triunfa de modo durável, às vezes com grandes dificuldades, frente aos obstáculos que lhe propõem o espaço, o mundo e o tempo”. Ambos não deixam de inquietar-se frente aos destinos incertos quando verificam que as coisas do amor já não duram, sejam quais forem os objetos que o amor encontre.
Nós, psicanalistas, constatamos também que a vida amorosa é uma vicissitude com a qual o sujeito de hoje em dia não está demasiado disposto a consentir, prefere ignorar suas dificuldades em benefício de um tipo de laço mais efêmero e mais débil. Pode-se verificar a dificuldade que o sujeito desta época tem para orientar-se no universo da falta. Sem ela, sabemos, nada pode se estruturar no que concerne à experiência do amor.
De uma forma ou de outra, o Amor, essa fonte de inspiração de muitos, esse grito universal, desgarrado talvez, não cessa de não se escrever. Consentirá a humanidade a declinar a fórmula lacaniana de que toda demanda é demanda de amor em direção a toda demanda é demanda de gozo? Isso subverteria os próprios fundamentos da práxis analítica. Provavelmente, não nos equivocaremos em conjecturar que o amor pode oferecer uma torsão a mais, uma volta a mais para verificar o destino que o analisante oferece ao impossível.
Mais que “uma construção de verdade”, como disse Alain Badiou, o amor é um pedaço de real que pode ser oferecido como possibilidade de fazê-lo funcionar como sinthoma, uma forma de oferecer à existência um furo através do qual se possa respirar. E talvez o segredo consista não tanto em alamar-se pela ausência das formas clássicas do amor, senão por fazer a aposta e poder testemunhar sobre as formas novas e singulares de sua presença. Nesse sentido, convém não perder o horizonte do sintoma. Se o amor se amarra ao sintoma, temos efetivamente a possibilidade de analisá-lo: aí onde há um sintoma, haverá um analista. Convém manter esse estranho entusiasmo pelo sintoma, em tempos de pandemia e mais além destes tempos. Essa teimosia que temos em captar o funcionamento do sintoma é uma marca do desejo do analista.
O amor e o tempo
Vou pôr um pouco a lupa sobre o amor e o tempo. O tempo e o amor são uma parceria necessária. É difícil conceber um amor sem a referência ao tempo. Alguns o pensam como eterno, outros quiseram detê-lo justo neste instante, outros se dedicam a contar as horas… Sempre, como tela de fundo, o tempo se cerne sobre a experiência do amor como uma ameaça; teme-se que o tempo o desgaste; muitos teimam na impossível tarefa de tratar em recuperá-lo; há aqueles que enlouquecem na espera de sua chegada…
“Estar contigo e não estar contigo é a medida de meu tempo […] O nome de uma mulher me delata. Uma mulher dói em todo meu corpo”, escrevia Borges como testemunho – não há muitos – de uma das raras ocasiões em que o amor por uma mulher se tornou acontecimento. Roland Barthes, por exemplo, esperava uma chegada, uma reciprocidade, um signo prometido. Lacan lhe responde: mesmo que o amor seja recíproco, é impotente porque ignora o desejo que não é mais que o desejo de ser Um… Tempo incontável, sem dúvida, o dos Uns.
Não obstante, a erótica que o tempo implica institui um fundamento da experiência amorosa, o tempo é o que faz existir a ausência que o torna possível. Tudo indica que o tempo do amor não convém que seja efêmero; em vez disso, pensa-se que isso deve durar para que se torne experiência.
Mas, cabe perguntar-se até que ponto podemos continuar sustentando esse fundamento na época em que a ciência vai operando uma pragmática quase definitiva sobre o tempo. Em que ele vai consumando sua redução. Efetivamente, os laços que se constituem sobre essa redução do tempo parecem não ser solidários com os intervalos necessários que oferecem ao amor uma consistência. Ao produzir uma pesquisa sobre a história científica do tempo, Jacques-Alain Miller se pergunta: “se quando observamos este passo da história científica do tempo, há ou não uma foraclusão do tempo. Uso esta palavra” – diz – “com precaução, mas é o que a especialização científica do tempo parece implicar”.
Efetivamente, as formas em que o laço social se constrói na contemporaneidade implicam essa redução do tempo operada pelo discurso. No que concerne ao amor, começa a deixá-lo à mercê de uma escritura estranha. Cada vez com mais frequência o amor parece afastar-se das variáveis que o bom uso da dimensão do tempo lhe impunha. Como uma pequena amostra basta pensar o momento da espera, por exemplo, essa condição necessária do tempo que torna o amor silêncio, ausência, incerteza… A espera, para dizer rápido, é o que o sujeito moderno suporta cada vez pior, de um modo geral. Não é infrequente que a viva como uma injustiça. E claro, no que ao amor corresponde, seu empuxo não só para uma consumação imediata da satisfação. Também o vemos cada vez mais despojado das palavras que permitem habitar sua experiência. O relato de amor começa a faltar no trajeto para a experiência de gozo. Nossa clínica não é alheia a essa dificuldade que a época da transparência generalizada impõe, às formas como a inércia do discurso vai esburacando a uma velocidade vertiginosa, aos véus que a genealogia do amor vai tecendo em torno do objeto.
Hoje o laço amoroso está cada vez mais sujeito à lógica da mensagem instantânea. As formas que toma o intercâmbio permitem uma diluição da espera em benefício de um monitoramento constante do objeto. A digna solidão do amor efetivamente está perturbada.
No entanto, penso que não se trata de fazer disso um drama, situado na série de uma crítica, às vezes excessivamente pessimista, às condições do amor em nosso tempo. É muito mais interessante pensar que o destino do amor pode, justamente, tornar-se Outro. Mas só com a condição da metamorfose que a transferência permite, não para restituir os velhos véus, inúteis cada vez mais em sua operatividade, senão para introduzir uma dose de sem sentido, de consentir à ausência em que o amor se inscreve no sujeito. O amor pelo saber inconsciente pode fundar o véu que convém quando é conduzido ao limite de uma construção. “O que nossa prática revela, nos revela,” – é a fórmula que Lacan utiliza – “é que o saber inconsciente tem uma relação fundamental com o amor.” Quando as palavras cessam na impostura de pretender cernir o real, então é aí, nesse litoral que se abre, onde se pode escrever um significante novo sobre o amor. E um significante novo, tal como Lacan o isola na última aula do seminário 24:
[…] não teria nenhuma espécie de sentido, isso talvez seria o que nos abriria ao que […] eu chamo o real. Por que alguém não tentaria formular um significante que, contrariamente ao uso que se faz dele atualmente, teria um efeito? Mas esse efeito já não é de sentido, justamente um significante novo detém o sentido, a ancoragem da metonímia. Já não responde o Outro e sim o corpo, responde o efeito que se depreende do impacto de lalíngua sobre o parlêtre.
O amor, lalíngua e acontecimento de corpo
Vou concluir com uma breve reflexão sobre o amor, o ódio e a segregação. Sabemos que no nível da economia psíquica, no sentido mais fundamental, o ódio é primeiro que o amor.
É pela via do equívoco, então, de l’une-bévue, que a interpretação analítica pode ter um alcance real, oferecer um significante novo ao amor. E desativar até onde se pode as doses de ódio que se fixam na experiência amorosa. O equívoco implica numa operação que vai mais além do Outro da linguagem. Na realidade, a partir do seminário Mais, ainda Lacan produz uma torsão definitiva no que diz respeito à linguagem e à sua estrutura que aparecem como secundários e são derivados do que Lacan chama lalíngua.
Lalíngua pode ser definida como a palavra antes de seu ordenamento gramatical e lexicográfico, separada, portanto, da linguagem. Com esta condição, Lacan propõe uma inclusão originária e privilegiada do gozo, em detrimento da estrutura e de suas articulações. Essa inclusão, essa irrupção de gozo seria anterior a toda construção de sentido veiculada pelo funcionamento das identificações. Seria pré-identificatória, se podemos dizer assim. Com lalíngua, precisamente, Lacan aponta para o que há antes da identificação: se podemos dizê-lo desse modo, a unidades pré-identidade.
Vemos, então, como o corpo, a partir dessa nova perspectiva, está concebido desde o mais estritamente primário, em um tempo anterior. Se o pensamos com cuidado, o que chamamos acontecimento de corpo revela, justamente, algo que é solidário do conceito de lalíngua. Um corpo que é atravessado, impactado por lalíngua. O que quero dizer com isso?
Entendo o acontecimento de corpo – essa irrupção de gozo, como define Jacques-Alain Miller – como um dos eixos para captar a mutação que se opera no último ensino de Lacan em relação ao amor. O acontecimento de corpo nos permite, entre outras coisas, captar a lógica de um deslocamento definitivo do campo da identificação tal como a havíamos pensado classicamente. E isto em benefício de situar um encontro anterior ao imaginário e anterior também à própria mordedura do significante no corpo. Se posso dizer desse modo, de maneira rápida, um encontro com este artefato que chamamos de lalíngua, onde impacta o afeto e se imprime no corpo. É uma marca, um tom vital que se encarna e que faz laço, e isso me parece fundamental para captar algo da experiência de um novo amor.
Podemos captar muito bem o destino dessa marca e sua formalização na experiência clínica. Por exemplo, é o que se põe em relevo na experiência do passe, em que se verifica de maneiras sempre singulares como à queda das identificações pode suceder um acontecimento inédito que impacta no corpo e que faz eco mais além de toda representação. Dito de outra maneira, quando o corpo deixa de estar perturbado pelo pathos do sentido, quando o sentido cessa de ser a enfermidade do parlêtre, o corpo se orienta de outra maneira no laço social e tudo parece indicar que de uma maneira mais amável, mais direta, “mais em consonância” – como disse Éric Laurent em seu livro O avesso da biopolítica – “com a réson”, ou seja, com o que ressoa, com o que faz eco.
A emergência do equívoco já não escreve um relato, é um obstáculo, uma objeção à metonímia, desorganiza todo o aparelho de linguagem. A própria interpretação que oferece destitui o analista da cena, deixando o sujeito à mercê de sua própria relação com lalíngua. O que se obtém nesse movimento vem de um significante insensato, fora de sentido, que cai da cadeia e se inscreve como uma letra que faz ressoar um afeto singular, faz ressoar, podemos dizê-lo assim, o Um do gozo. Entre outras coisas, desativa a vertente mortificante e de ódio, condiciona o amor em outro registro a partir da colocação em funcionamento de um mecanismo que permite passar de um regime subjetivo sustentado por uma identificação segregativa a um tipo de identificação não segregativa. Com o paradoxo que isso implica, também.
Há Um [diz Lacan no seminário 24] e isso quer dizer que há de todo modo afeto, esse afeto que chamei, segundo as unaridades, o suporte disso que é preciso que eu reconheça, o ódio, enquanto que este ódio é parente do amor, o amor que escrevi em meu título deste ano – L’insu que sait de l’une-bévue, es el amor (c’est l’amour).
De um lado, estão as experiências que em um tratamento dão lugar a um franqueamento, a momentos de destituição do Outro. E isto concerne ao tempo de atravessamento das identificações. É um ponto-chave porque o que está posto em jogo são as formas de passagem do vazio ao furo. Ou seja, do enigma do desejo à certeza do real, porque o que verdadeiramente está em jogo é a ausência, a ausência de relação sexual. E é sobre essa ausência que se constrói um litoral, onde existe a possibilidade de escrever um dizer que pode tornar-se outra coisa a respeito do amor. É quando o Outro fica despojado de qualquer semblante. Quando não há mais traço a que se identificar.
Mas o radical da questão, deste movimento, é enfrentar-se ao real que implica o próprio gozo. A segregação primeira e fundamental é segregar a substância gozante que atravessa cada um, que habita em cada um. A matriz segregativa que veicula a identificação é, antes de mais nada, contra Um, contra si mesmo, é um modo de recusa do objeto ao qual se está identificado e que é, em última instância, um mesmo. Um mesmo subjetivado como um resto não nomeável, apanhado nas redes do Outro. E o que se segrega é o gozo que está encapsulado na identificação, que é o alimento privilegiado do ódio.
Quando as identificações alojadas no Outro se evaporam, constata-se um efeito que concerne a uma modificação profunda do amor e do laço social em geral. Torna-o mais frouxo sem dúvida, pois a satisfação tem a possibilidade de não ficar fixada ao ódio. Quero dizer que o laço social que se funda a partir da diluição das identificações implica um reconhecimento radical da alteridade do Outro. O gozo do outro não é o gozo do Um. E esta diferença permite tomar a distância suficiente do Outro para que a diferença opere como o registro fundamental em que o laço social se sustenta. Podemos construir a partir daqui uma versão muito distinta do que é o comum. O comum tem a possibilidade de organizar-se a partir de um comum de solidões. Uma por uma a solidão que habita o humano produz um laço mais autêntico que a de um conjunto homogeneizado pela identificação. Embora este não seja um movimento puro. Em realidade, ao menos é assim que entendo, nenhum movimento da análise, por mais radical que seja, é puro, ou seja, sem restos. Não obstante, a análise permite efetivamente desarticular, modificar o regime da segregação até o máximo possível para cada um. E isto modifica as condições de amor.
O interessante é que esses restos, o que fica depois da experiência, já não fazem mais parte de um todo. A partir dessas peças soltas desconectadas, temos a possibilidade de abordar o ódio sem angústia, e o amor já não é ignorante das condições de gozo do Um e do outro. Acredito que isso seja fundamental na própria transferência: mais vale pensar a transferência a partir do real do ódio do que em relação ao amor ao saber. O amor ao saber pode correr o risco de converter-se em uma defesa a mais contra o ódio, que é primeiro que o amor.
Uma das condições de pensar nisso que Lacan chamou de um novo amor – algo mais interessante para lidar com o ódio e contra a segregação – concerne justamente a não perder de vista – na direção da cura e na enunciação que os psicanalistas inscrevemos no Outro social – os semblantes sob os quais o sujeito pretende refugiar-se, amparado nas promessas de gozo que se articulam a partir da fantasia, seja esta fantasia a de cada um, seja também a construção de uma fantasia que mobiliza comunidades de gozo pela via dos ideais.
É preciso desgarrar os falsos véus que disfarçam o real do ódio que habita em cada um. Desidentificar implica esburacar esses semblantes até onde é possível. E até onde um sujeito consente com isso. É necessário despojar-se das boas formas, dos semblantes cativos pelas identificações, para poder fazer um tratamento possível do ódio e abrir, dessa maneira, o vazio que convém para fazer do amor, como diz Lacan, uma experiência mais digna. E isto, por que não, penso que se pode fazer ressoar em um conjunto amplo.
Fico por aqui.